Lovecraft e a obsolescência do intelectual ocidental
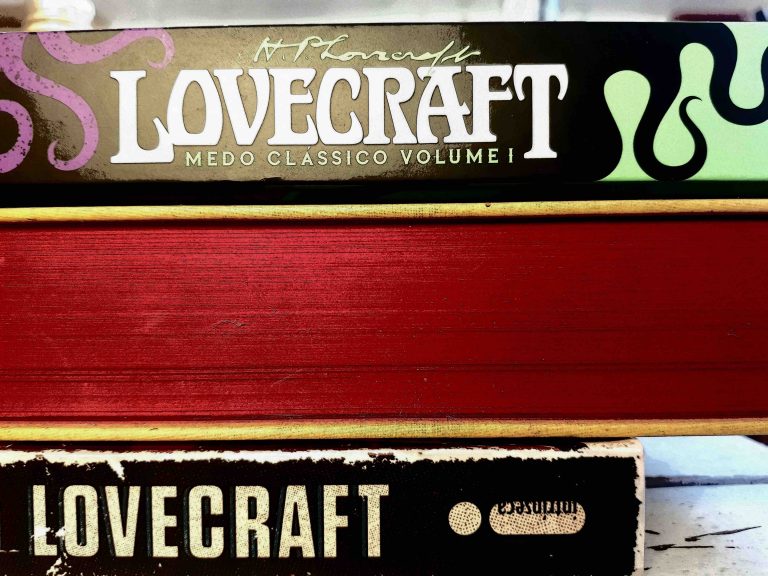
Em 1999, o economista Milton Friedman, um dos mais celebrados intelectuais do século 20, vencedor do Nobel em 1976, participou de um colóquio, em Harvard, nordeste dos EUA, a 80 quilómetros onde nasceu o escritor H.P. Lovecraft, que embora tenha morrido há quase 100 anos, tornou-se um dos autores mais celebrados do século 21.
Lovecraft, hoje sabemos notório racista, não viveu para ver quando Friedman desafiou em público o seu interlocutor, o escritor nigeriano Chinua Achebe, ao enumerar a quantidade de línguas na qual era fluente. Quatro. Achebe falava 12 línguas, informou. Em seguida, e de forma serena, dominou o debate.
O linguista Noam Chomsky, presente ao colóquio, iria declarar no dia seguinte: “O intelectual ocidental, tão celebrado no último século, já não dá mais conta de pensar o mundo”.
O sonho de H.P. Lovecraft, escritor medíocre, era fazer parte, no início do século 20, da elite intelectual do ocidente. As mais de 20 mil correspondências que produziu durante os anos 1920, muitas delas de 40 páginas, trocadas com escritores aspirantes a intelectuais, especificamente a intelectuais de acento britânico, cacoete de toda a Nova Inglaterra, região da qual estamos falando.
Lovecraft escrevia novelas baratas de terror. Fundou o que se chama horror cósmico. Saem bruxas, lobisomens e dráculas, entram criaturas indescritíveis, anteriores e indiferentes à existência humana, cultuadas por seres humanos malignos com traços negróides, ou árabes, ou asiáticos. Uma projeção do horror que o autor, entusiasta das ideias de uma raça pura branca intelectual, dos imigrantes e nativos americanos, seus saberes e crenças. O horror a tudo o que não é ocidental.
Durante esta pandemia, o brasileiro correu a nossos intelectuais ocidentais, em busca de referências e orientações. O leitor encontrou pensamento mal preparado, egocentrado, e pouco erudito. Textos escritos por que fala apenas 4 línguas, todas elas europeias. Explodiu, então a venda da obra de Djamila Ribeiro e de Aílton Krenak. Uma mulher negra, um índio. Os saberes não ocidentais. Não coloniais.
A reação está aí. Contrariados com as consequências da percepção de certa obsolescência do saber colonial, Olavo de Carvalho escreveu “O “ad hominem” não é um argumento válido numa discussão”. Na Folha, o psicanalista Contardo Caligaris escreveu “receio a estupidez dos argumentos “ad hominem””.
Quando em julho foi publicado, na Ilustríssima, meu conto inédito “Adúmádáan”, as correspondências que recebi eram só perguntas, e apenas sobre dois assuntos. A qual língua pertencia a palavra título. E se a citação à uma coluna publicada por Paulo Francis (o prazer de domingo do intelectual brasileiro) era verdadeira, posto que o texto absurdamente preconceituosa. Para mim, erudição não é saber, por exemplo, apenas português, inglês, espanhol e alemão. É falar japonês. É falar iorubá. Adúmádáan foi o primeiro conto com título em iorubá publicado em 212 anos de história da imprensa no Brasil.
E a fala de Paulo Francis retirada de “Waal – O dicionário da corte” (Cia das Letras, 1996), coletânea de trechos de do que publicou em espaço nobre de nossa imprensa entre 1977 e 1996. Outra passagem, quando acusa a escritora negra Toni Morrison de usar da própria cor da pele para obter sucesso na carreira, escreve: “Desprezo os ataques “Ad hominem”, coisa de esquerda, mas essa senhora merece a desqualificação”.
H.P. Lovecraft temia a percepção dessa obsolescência. Chamava de apocalipse. Dizia que os tais seres vindos de lugares desconhecidos, estrangeiros, imigrantes, não colonizados, incompreensíveis como o nome do mais pop deles, o Cthulhu, “ estavam prontos para despertar e fazer ruir o modo de vida civilizado do homem branco cristão, com seus ataques “ad hominem” que têm assolado nossa imprensa local. Destruir reputações de respeitáveis homens de bem, é o que a opinião pública faz.”, escreveu em uma de suas cartas ao escritor Robert E. Howard, melhor amigo e criador de “Conan”, enquanto sonhava com seus ídolos: Chambers, Dusany, Bierce.
Os heróis dos contos de Lovecraft são invariavelmente intelectuais brancos que descobrem os perigos e os horrores, segundo ele, das culturas não ocidentais. Inventou um livro chamado “Necronomicon”, que continha palavras tóxicas e primitivas “capaz de levar um homem à loucura”, escreveu. Segundo ele, o “Necronomicon” teria origem árabe, e nele ensinada cultura árabe. Hoje, o verdadeiro “Necronomicon” é publicado em páginas de jornal à guisa de opinião de intelectuais ocidentais. Textos mortos-vivos.
O saber não ocidental descobriu o universo quântico 5 mil anos que nossa física colonial. Que a Terra é redonda séculos antes do ocidente introduzir a ideia de que a terra é plana. O saber colonial desenvolveu medicina para enfermidades do corpo desenvolvidas pela falta de higiene. E das desenvolvidas enfermidades da alma, sabe quem já esteve um uma livraria em Tóquio atrás de algum livro sobre psicanálise e encontra quase nada sobre o assunto. Além de, claro, os escravizados que foram obrigados da África para sobreviver nas colônias européias.
O saber ocidental, colonial, é relativamente jovem. A consciência de que ele nos emburrece, sim, é antiga. E está em processo de novamente despertar, como Cthulhu adormecido no fundo do oceano que tanto aterrorizava o intelectual H.P. Lovecraft. No final do século XX, Michael Stipe, um poeta branco, americano, gay, decolonialista, crítico de Lovecraft (que além de racista era homofóbico, xenófobo e misógino) escreveu uma vez: “É o fim do mundo como conhecemos. E eu me sinto bem.”
